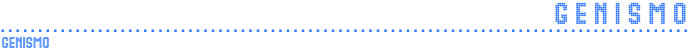
Teoria Instrumental da Razão Prática
Por: Pedro Madeira
Resumo
Na primeira secção, explica-se que o estudo da razão prática pode ser dividido em duas grandes áreas: a da racionalidade na acção e a das razões para agir. Na segunda secção, expõe-se a teoria da racionalidade na acção mais comum, a teoria instrumental da racionalidade na acção. Na terceira secção, argumenta-se que Hume não a defendia.
1. Quais são os assuntos estudados na área da razão prática?Há uma disciplina filosófica a que é comum chamar-se, desde Kant, "razão prática". Que é isso da razão prática? Uma pista inicial é o adjectivo "prática", que significa, simplesmente, "relativa à acção". Quando nós falamos em "ética prática", por exemplo, estamos a referir-nos à ética relativa à acção, isto é, à parte da ética que nos diz como agir em circunstâncias específicas: dar ou não dar ajuda, pular ou não pular a cerca, etc. Do mesmo modo, quando falamos em "razão prática", estamos a referir-nos à razão relativa à acção. A expressão "razão relativa à acção", porém, é ambígua de uma maneira que a expressão "ética relativa à acção" não é. A única pergunta que a ética aplicada fará em relação a uma acção será: terá essa acção sido eticamente correcta? Poderia parecer que a única pergunta que a razão prática faria seria: terá essa acção sido racional? Isto não é verdade. A razão prática ocupa-se não só dos critérios que fazem de uma acção (ou de um desejo) racional, mas também de procurar saber o que significa ter uma razão para agir.
Ao contrário do que à primeira vista poderia parecer, estas duas áreas não coincidem completamente. À partida, não parece inconsistente dizer que o facto de uma acção ser racional não implica que tenhamos uma razão para a realizarmos. Do mesmo modo, não parece inconsistente dizer que o facto de termos uma razão para realizar uma acção não implica que essa acção seja racional. Suponhamos que defendíamos que uma acção é racional se e só se é o meio mais adequado para realizar os nossos desejos (isto não anda muito longe da teoria humeana que analisaremos nas secções seguintes), mas que só temos razão para realizar acções eticamente correctas. Neste caso, estaríamos a defender que o facto de uma acção ser racional não nos daria necessariamente uma razão para a realizarmos e, conversamente, que o facto de termos uma razão para a realizar não significaria, necessariamente, que essa acção era racional.
O tópico da racionalidade na acção e o das razões para agir não estão, portanto, tão ligados como seria de supor. Isso dá-me alguma margem de manobra (e também alguma justificação) para me ocupar apenas do tópico da racionalidade da acção neste ensaio. O das razões para agir terá que ficar para outra altura, infelizmente, dado que ainda não é uma área em que me sinta à vontade. Pode ser que em breve tenha oportunidade para me debruçar sobre isso.
2. O que é a teoria instrumental da razão prática?No título deste ensaio, fala-se da "teoria instrumental da razão prática". Que é isso? Bom, a primeira coisa que é preciso esclarecer é que seria mais correcto dizer "teoria instrumental da racionalidade na acção", dado que é uma teoria acerca dos critérios que tornam uma acção racional ou irracional. Não é uma teoria acerca das razões para agir (embora costume vir acompanhada de uma teoria acerca das razões para agir - mas essa já é outra história). No entanto, como é habitual falar-se dela como "teoria da razão prática" e não como "teoria da racionalidade na acção", eu seguirei esse costume. Mas não se deixe enganar: a a teoria instrumental da razão prática não é uma teoria acerca das razões para agir.
Passemos ao que nos interessa, então. A teoria instrumental da razão prática é uma teoria minimalista da razão prática (explicarei mais à frente porque é que lhe chamo "minimalista"). De acordo com ela, uma dada acção X será irracional se e só se o agente pensa (correcta ou incorrectamente) que há uma outra acção, chamemos-lhe Y, que lhe está igualmente disponível, e que realizar Y realizaria mais eficientemente os seus desejos do que realizar X e prefere, todavia, realizar X. Pense no seguinte exemplo. Como reagiria se eu lhe dissesse que trabalhar era o meio mais eficiente de arranjar dinheiro para realizar os meus desejos, e acrescentasse de seguida que, ainda assim, não queria trabalhar? Dir-me-ia, certamente, que eu era irracional. O defensor do modelo instrumental da razão prática dirá que vários cenários são possíveis: ou estou a mentir quando digo que acredito que trabalhar é o meio mais eficiente para realizar os meus desejos; ou afinal a realização desses desejos que requerem dinheiro não é assim tão importante para mim como dei a entender, de forma enganadora; ou então estou mesmo a ser irracional.
Antes de prosseguir, gostaria de desfazer uma possível confusão. Alguém poderá dizer: é estranho pensar que é irracional termos desejos incompatíveis. Afinal, não sentimos isso a toda a hora? Queremos ir trabalhar para ganhar dinheiro - mas, se calhar, preferíamos ficar em casa a ler. Queremos ser honestos - mas não há quem nunca se tivesse sentido tentado a prevaricar. Queremos ir visitar o familiar ao hospital - mas era tão mais agradável ir ao cinema. Exemplos deste tipo de situação abundam. A minha resposta é a de que é óbvio que há um sentido trivial em que todos temos desejos incompatíveis sem por isso sermos irracionais. O que não é trivial é que seja normal ter, ao mesmo tempo, a intenção de realizar uma acção e a intenção de não a realizar. É mais ou menos consensual que ter a intenção de realizar uma acção implica estar determinado a realizá-la, e à partida pareceria que, em circunstâncias normais, uma pessoa não estaria determinada a realizar duas acções incompatíveis. De acordo com a teoria instrumental da razão prática, uma pessoa que esteja determinada a alcançar um fim, mas recuse empregar os meios necessários, é irracional.
Creio que todos os que acham que há princípios de razão prática concordam que empregar meios que consideramos inadequados para a prossecução do nosso fim constitui um exemplo claro de irracionalidade - é por isso que a teoria instrumental da razão prática é denominada "minimalista": gera uma base mínima de consenso. A grande cisão actual no campo da racionalidade na acção (entre os não-cépticos, bem entendido) dá-se entre os que dizem que devemos adoptar uma teoria "robusta" da racionalidade, e os que defendem que não devemos ir além da teoria minimalista.
Na prática, aquilo que distingue os proponentes da teoria robusta dos da minimalista é o facto de que os primeiros defendem que desejos individualmente considerados podem ser racionais ou irracionais. Kant, por exemplo, defendia que ser imoral era irracional, independentemente de termos ou não o desejo de agir moralmente. Os proponentes da teoria minimalista dirão que só seríamos irracionais caso tivéssemos, ao mesmo tempo, a intenção de agir moralmente e a intenção de agir imoralmente.
3. Será que Hume defendia a teoria instrumental da razão prática?É comum dizer-se que, enquanto Kant defendia uma teoria robusta da racionalidade, Hume, o seu opositor, defendia a teoria minimalista. Concordo que Kant defendia uma teoria robusta. Todavia, não me parece correcto dizer que Hume defendia a teoria minimalista. Para ver porquê, basta pensar nas duas situações em que, segundo Hume, as paixões podem ser contrárias à razão: se escolhemos meios insuficientes para o nosso fim; ou se o objecto da nossa paixão não existe ("paixão" é o termo que ele emprega com o sentido de "desejo"). Se olharmos com atenção, veremos que, em ambos os casos, não é a paixão que é contrária à razão, mas sim a crença. (Na primeira situação, há uma crença instrumental que é falsa; no segundo, a crença em que se baseia a paixão é falsa.) Isto significa que, de acordo com Hume, as paixões não são racionais nem deixam de ser: uma paixão não é o tipo de coisa de que faça sentido perguntar-se se é racional ou não. Olhemos, então, para as duas situações em que, segundo Hume, as paixões podem (supostamente) ser contrárias à razão.
Escolher meios insuficientes para um fim nunca poderia, em bom rigor, ser praticamente irracional; só faria sentido dizer isso se nós conscientemente escolhêssemos meios que julgávamos ser insuficientes para o nosso fim. Todavia, tanto quanto pude perceber, Hume não impõe essa cláusula. Por isso, concluo que Hume dirige a sua crítica para a crença instrumental falsa, e não para a paixão.
Detenhamo-nos agora no segundo caso. Suponha que eu acordei hoje a suar da testa, porque sei que vou ter que entrar na sala B9, onde creio haver um monstro. Por ter tal crença, desejo fortemente nunca mais entrar na sala. É óbvio que não há lá monstro nenhum - eu é que sou paranóico. Creio que Hume diria que este seria um caso em que o objecto da minha paixão não existia. Poderei eu ser acusado de irracionalidade prática? Não me parece. Suponha que a minha crença de que há um monstro na sala é mesmo justificada, embora não haja qualquer monstro. Neste caso, muito embora o objecto da minha paixão não existisse, não creio que Hume dissesse que a minha paixão era contrária à razão. Por isso, concluo, novamente, que Hume está a criticar a crença em que se baseia a paixão, e não a própria paixão.
(Um aparte: esta segunda crítica de Hume pode ser generalizada. Em vez de criticar as paixões cujo objecto é inexistente, faria mais sentido que ele criticasse as paixões fundadas em crenças falsas. Pense no seguinte exemplo: eu quero oferecer-lhe um colar de pérolas de modo agradar-lhe. Contudo, embora eu não o saiba, ela acha que dar jóias denota frivolidade, pelo que agradada é que ela não ficará quando eu lhe der o colar. Repare: tanto como o colar de pérolas, como ela, existem. Não se pode dizer que o objecto da minha paixão não exista; no entanto, Hume não deixaria de me criticar por eu lhe dar o colar de pérolas. Isto significa que, em vez de dizer que há irracionalidade caso o objecto da minha paixão não exista, Hume devia dizer, de modo mais abrangente, que há irracionalidade caso a paixão esteja fundada numa crença falsa. É a situação presente: eu só tenho o desejo (a paixão) de lhe dar o colar porque acredito, falsamente, que ela ficará agradada.)
Portanto, de acordo com Hume, a área da racionalidade na acção é vazia: não parece haver qualquer caso em que uma paixão possa ser contrária à razão. Este é o bom velho Hume - sempre um céptico.
BibliografiaCullity & Gaut - Ethics and practical reason, Oxford University Press, 1997
Dancy - Practical reality, Oxford University Press, 2002
Darwall - www.la.utexas.edu/~pdl/histeth/histeth.lec14.html
Hume - Treatise of human nature, Oxford University Press, 2000
Kavka, Gregory - Hobbesian moral and political philosophy, Princeton University Press, 1992
Luce & Raiffa - Games and decisions, Dover Publications, 1989
Madeira, Pedro - "O que é o modelo crença-desejo?", Intelectu nº 9, em www.intelectu.com
Madeira, Pedro - "A objecção de Nagel ao modelo crença-desejo e o realismo moral", Intelectu nº9, em www.intelectu.com
Miguens, Sofia - "Blackburn e Hume, razão e paixões", Intelectu nº7, em www.intelectu.com, Outubro de 2002
Nozick - The nature of rationality, Princeton University Press, 1995
Fonte: www.intelectu.com