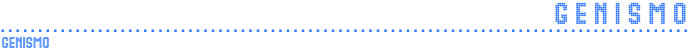
Críticas à Igreja
Por Moisés Rodrigues da Silva
As primeiras críticas à religião feitas no pensamento ocidental vieram dos filósofos pré-socráticos, que criticaram o politeísmo e o antropomorfismo. Em outras palavras, afirmaram que, do ponto de vista da razão, a pluralidade dos deuses é absurda, pois a essência da divindade é a plenitude infinita, não havendo uma potência divina.
Declararam também o absurdo ao antropomorfismo, uma vez que reduz os deuses à condição de seres super-humanos, quando, segundo a razão, devem ser supra-humanos, isto é, as qualidades da essência divina não podem confundir-se com as da natureza humana. Essas críticas foram retomadas e sistematizadas por Platão, Aristóteles e pelos estóicos.
Uma outra crítica à religião foi feita pelo grego Epicuro e retomado pelo latino Lucrécio. A religião, dizem eles, é a fabulação ilusória, nascida do medo da morte e da Natureza. É superstição. No século XVII, o filósofo Espinosa retoma essa crítica, mas em lugar de começar pela religião, começa pela superstição. Os homens, diz ele, têm medo dos males e esperanças de bens. Movidos pelas paixões (medo e esperança), não confiam em si mesmos nem nos conhecimentos racionais para evitar males e conseguir bens.
Passional ou irracional, depositam males e bens em forças caprichosas, como a sorte e a fortuna, e as transformam em poderes que governaram arbitrariamente, instaurando a superstição. Para alimentá-la, criam a religião e esta, para conservar seu domínio sobre eles, institui o poder teológico-político. Nascido do medo supersticioso, a religião está a serviço da tirania, tanto mais forte quando mais os homens forem deixados na ignorância verdadeira natureza de Deus e das causas de todas as coisas.
Essa diferença entre religião e conhecimento de Deus levou, no século XVIII, a idéia de religião natural ou deísmo. Voltando-se contra a religião institucionalizada como poder eclesiástico e poder teológico-político, os filósofos da Ilustração afirmaram a existência de um Deus que é força e energia inteligente, imanente à Natureza, conhecido pela razão e contrário à superstição.
Observamos, portanto, que as críticas à religião voltam-se contra dois de seus aspectos: o encantamento do mundo, considerando superstição; e o poder teológico-político institucional, considerado tirânico.
No século XIX, o filósofo Feuerbach criticou a religião como alienação. Os seres humanos vivem, desde sempre, numa relação com a Natureza e, desde muito cedo, sentem necessidades de explicá-la, e o fazem analisando a origem das coisas, a regularidade dos acontecimentos naturais, a origem da vida, a causa da dor e da morte, a conservação do tempo passado na memória e a esperança de um tempo futuro. Para isso, criam os deuses. Dão-lhes forças e poderes que exprimem desejos humanos. Fazem-nos criadores da realidade. Pouco a pouco, passam a concebê-los como governantes da realidade, dotados de forças e poderes maiores dos que os humanos.
Nesse movimento, gradualmente, de geração em geração, os seres humanos se esquecem de que foram criadores da divindade e invertem as posições e julgam-se criaturas dos deuses. Estes, cada vez mais, tornam-se seres onipotentes, oniscientes e distantes dos seres humanos, exigindo deste culto, rito e obediência. Tornam-se transcendentes e passam a dominar a imaginação dos seres humanos. A alienação religiosa é esse longo processo pelo qual os homens não reconhecem no produto de sua própria criação, transformando-o num outro (alienus), estranho, distante, poderoso e dominador. O domínio da criatura (deuses) sobre seus criadores (homens) é a alienação.
A análise de Feuerbach foi retomada por Marx, de quem conhecemos a célebre expressão: “A religião é o ópio do povo”. Com essa afirmação, Marx pretende mostrar que a religião — referindo-se ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, isto é, às religiões da salvação — amortece a combatividade dos oprimidos e explorados, porque lhes prometem uma vida futura feliz. Na esperança de felicidade e justiça no outro mundo, os despossuídos, explorados e humilhados deixam de combater as causas de suas misérias neste mundo.
Todavia, Marx fez uma outra afirmação que em geral, não é lembrada. Disse ele que “a religião é a lógica e enciclopédia popular, espírito de um mundo sem espírito”. Que significa essas palavras?
Com elas, Marx procurou mostrar que a religião é uma forma de conhecimento e de explicação da realidade, usada pelas classes populares — lógica e enciclopédia — para dar sentido às coisas, às relações sociais e políticas, encontrando significações — o espírito no mundo sem espírito —, que lhes permitem, periodicamente, lutar contra os poderes tiranos. Marx tinha na lembrança as revoltas camponesas e populares durante a Reforma Protestante, bem como a Revolução Inglesa de 1644, na Revolução Francesa de 1789, e nos movimentos miletaristas que exprimiram, na Idade Média, e no início dos movimentos contra a injustiça social e política.
Se por lado na religião há a face opiácia do conformismo, há por outro lado, a face combativa dos que usam o saber religioso contra as instituições legitimadas pelo poder teológico-político.
Nietzsche foi o maior de todos os críticos do cristianismo e fez as críticas mais violentas. Foi um crítico impiedoso do passado e “inatual” profeta do futuro, dessacrador dos valores tradicionais e propugnador do homem que está por vir, Nietzsche (1844-1900) possuía forte consciência de seu destino:
“Eu conheço a minha sorte. Um dia, meu nome estará ligado à recordação de uma crise como nunca houve outra semelhante na terra, ao mais profundo conflito de consciência, à decisão proclamada contra tudo o que até então fora criado, exigido e consagrado. Não sou homem, sou dinamite (...). Contradigo como nunca foi contradito e, apesar disso, sou a antítese de espírito negador (...). E malgrado tudo, sou também, necessariamente, homem do destino. Com efeito, se a verdade entra em luta com a mentira de milênios, teremos tais abalos e tais convulsões de terremotos que nunca antes haviam sequer sonhados.”
Nietzsche critica o idealismo, o evolucionismo, o positivismo e o romantismo. Diz que essas teorias são coisas “humanas, muito humanas”, que se apresentam como verdades eternas e absolutas que é preciso desmascarar. Mas as coisas não ficam nisso, Nietzsche, precisamente em nome do instinto dionisíaco, em nome daquilo que é sadio homem grego do século VI a.C., que “ama a vida” e que é totalmente terreno, por um lado anuncia a “morte de Deus” e por outro realiza profundo ataque ao cristianismo, cuja vitória sobre o mundo antigo e sobre a concepção grega do homem envenenou a humanidade. E, por outro lado ainda, vai as raízes da moral tradicional, examina a sua genealogia e descobre que ela é moral dos escravos, fracos e dos vencidos ressentidos contra tudo o que é nobre, belo e aristocrático.
Na Gaia Ciência, o homem louco anuncia aos homens que Deus está morto:
“O que houve com Deus? Eu vos direi. Nós o matamos — eu e vós. Nós somos os seus assassinos!” Pouco a pouco, por diversas razões, a sociedade ocidental foi se afastando de Deus: foi assim que o matou. Mas, “matando” Deus, elimina-se todos os valores que serviram de fundamento para a nossa vida, e conseqüentemente, perde-se qualquer ponto de referência: “O que fazemos separando a terra do seu sol? Para onde vai ela agora? Para onde vamos nós, longe de qualquer sol? Não continuaremos a nos precipitar para trás, para os lados e para a frente? Ainda existem um alto e baixo? Não estaremos talvez vagando por um nada infinito? (...) Deus está morto! Deus permanece morto! E nós o matamos!”
Para Nietzsche, nós eliminamos o mundo do sobrenatural, mas assim fazendo, infringimos também o quadro dos valores e ideais e ele ligados. E, assim, nos encontramos sem ponto de referência: nós matamos Deus e com ele desapareceu o homem velho, mas o homem novo ainda não apareceu. Diz o louco em Gaia Ciência:
“Venho cedo demais, ainda não é meu tempo. Esse acontecimento monstruoso está em curso e não chegou aos ouvidos dos homens”.
A morte de Deus é fato que não têm paralelos. É acontecimento que divide a história da humanidade. Não é o nascimento de Cristo, e sim a morte de Deus, que divide a história da humanidade:
Quem quer nascer depois de nós, por isso mesmo, pertencerá a uma história mais elevada do que qualquer outra transcorrida.”
E esse acontecimento, a morte de Deus, anuncia antes de mais nada Zaratustra, que, depois, sobre as cinzas de Deus, erguerá a idéia do super-homem, do homem novo, impregnado do ideal dionisíaco, que “ama a vida” e, voltando as costas as quimeras do “céu”, voltará à “sanidade da terra”.
Proclama, portanto, Zaratustra:
“Oh, meus irmãos, aquele Deus que eu criei era a obra louca de um homem, como são todos os deuses (...), o cansaço, que de um só salto — com o salto mortal — pretendia alcançar o cume, esse pobre ignorante cansaço, que ademais não sabe sequer querer: ele criou todos os deuses e o sobrenatural”. E aqueles que pregam mundos sobrenaturais são “pregadores da morte”, porque “todos os deuses estão mortos”.
A morte de Deus é acontecimento cósmico, pelo qual os homens são responsáveis e que os liberta das cadeias sobrenaturais que eles próprios haviam criados. Falando sobre os padres, Zaratustra afirma:
“Dão-me pena esses padres (...), para mim eles são prisioneiros muchos. Aqueles que chamam de redentor, carregou grilhões de falsos valores morais e loucas palavras” Ah, se alguém pudessem redimi-los do seu redentor!”
Precisamente esse é o objetivo que Nietzsche que alcançar com o Anticristo, que é uma “maldição do cristianismo”. Para ele, um animal, uma espécie ou individuo é pervertido “quando perde os seus instintos, quando escolhe e quando prefere o que lhe é nocivo”. Mas, pergunta-se Nietzsche, o que fez o cristianismo senão defender tudo o que é nocivo ao homem? O cristianismo considerou pecado tudo o que é valor e prazer na terra. Ele “tomou partido de tudo o que é fraco, objeto e arruinado; fez um ideal da contradição contra os instintos de conservação da vida forte; desgastou até a razão das naturezas intelectualmente mais fortes, ensinando a sentir os supremos valores da intelectualidade como pecaminosos, como fonte de desvio, como tentações. O exemplo mais censurável foi a ruína de Pascal, que acreditava na corrupção de sua razão por causa do pecado original, quando fora apenas o cristianismo a corrompê-las!”
Para Nietzsche, o cristianismo é a religião de compaixão. “Mas se perde força quando se tem compaixão (...); a compaixão obstaculiza em bloco a lei do desenvolvimento, que é a seleção. Ela conserva o que está maduro para o declínio, opõe resistência em favor dos deserdados e dos condenados pela vida”. A realidade, diz ele, é que “compaixão é a práxis do niilismo” e que “nada é mais malsão, em meio à nossa malsã humanidade, do que a compaixão cristã”.
Nietzsche vislumbra no Deus cristão “a divindade dos doentes (...); um Deus degenerado a ponto de contradizer a vida, ao invés de ser a transfiguração e o seu eterno sim. Em Deus, está a forma de toda calúnia do ‘aquém’ e de toda mentira do ‘além’! Em Deus, está divinizado o nada, está consagrada a vontade do nada!” O budismo também é a religião da decadência, mas Nietzsche o considera pelo menos “cem vezes mais realista do que o cristianismo:
Com efeito, o budismo não luta contra o pecado, mas sim contra a dor. E ademais, “um clima muito suave, uma grande tranqüilidade e liberalidade de costumes, sem nenhum militarismo, são pressuposto do budismo”.
Apesar de tudo isso, Nietzsche é tomado pela figura de Cristo (“Cristo é homem mais nobre”; “símbolo da cruz é símbolo mais sublime que já existiu”) e faz distinção entre Jesus e o cristianismo (“o cristianismo é algo profundamente diferente do que serve o seu fundador quis e fez”). Cristo morreu para apontar como se deve viver:
“A prática da vida é o que ele deixou em herança aos homens: a sua atitude diante dos juízes, dos sicáros, dos acusadores e de toda espécie de zombaria e calúnia, a sua atitude sobre a cruz (...). As palavras dirigidas ao ladrão sobre a cruz encerram em si todo o Evangelho”.
Para ele, Cristo foi “espírito livre”, mas com Cristo morreu o Evangelho: o Evangelho também ficou “suspenso na cruz”, ou melhor, transformou-se em igreja, em cristianismo, isto é, em ódio e ressentimento contra tudo o que é aristocrático. “Paulo foi o maior dentre todos os apóstolos da vingança”. Os cristãos, do primeiro ao último (que Nietzsche pensa em chegar a conhecer), “são por instinto profundos rebeldes contra tudo o que é privilegiado — vivem e combatem sempre por ‘direitos iguais”.
No Novo Testamento, Nietzsche só encontra uma personagem digna se ser elogiada, Pôncio Pilatos, em virtude do seu sarcasmo em relação à “verdade”. Mais tarde, na história da nossa civilização, o Renascimento tentou a transvalorização dos valores cristãos e procurou levar à vitória os valores aristocráticos, os nobres instintos terrenos. Feito papa, César Bórgia teria sido grande esperança para a humanidade.
Mas o que aconteceu? Aconteceu que “um monge alemão, Lutero, veio a Roma. Trazendo dentro do peito os instintos de padre mal-sucedido, esse monge, em Roma, indignou-se contra o Renascimento (...). Lutero viu a corrupção do papado, quando se podia tocar com a mão justamente o contrário: na cadeira papal, não estava mais a antiga corrupção, o peccatum originale, o cristianismo! Que boa vida! Que bom o triunfo da vida! Que bom o grande sim a tudo o que é elevado, belo e temerário! (...) E Lutero restaurou novamente a Igreja (...) Ah, esses alemães, quanto nos custaram!
São dessas naturezas, portanto, as razões que levam Nietzsche a condenar o cristianismo:
“A Igreja cristã não deixou nada de intacto em sua perversão: ela fez de cada valor um desvalor, de cada verdade uma mentira, de toda uma honestidade uma abjeção da alma”. A Igreja, “com seu ideal clorídrico da ‘santidade’, vai bebendo até a última gota de todo sangue, todo amor e toda esperança da vida”. O além é a negação de toda realidade e a cruz é conjuração “contra a saúde, a beleza, a constituição bem sucedida, a valentia de espírito, a bondade da alma, contra a própria vida”. Assim, o que devemos augurar senão que seja o último dia do cristianismo? E “a partir de hoje? A partir de hoje, transvalorização de todos os valores”, responde Nietzsche.
E nos tempos atuais, mesmo numa época em que o mau comportamento de religiosos parece por outra vez nas manchetes, seria difícil imaginarmos o papa João Paulo II sendo assistido por uma madre superiora, sob os olhos atentos do colégio de cardeais. Mas, se acontecesse, não seria uma cena inédita. Muitos papas anteriores praticaram todo tipo de traquinagem. Muitos deles se casaram. Muitos outros, por trás do manto do celibato, instalaram suas amantes no Vaticano e promoveram seus filhos ilegítimos – ou “sobrinho”, como os conhecidos na Igreja – a altos postos.
Houve papas homossexuais que promoveram amantes a cardeais. Houve papas grosseiramente promíscuos, de ambas as tendências. Orgias não eram desconhecidas dos palácios papais. Um papa organizou um bordel nas vizinhanças do Palácio de Latrão. Vários deles aumentaram suas rendas taxando as prostitutas de Roma. Outros venderam indulgências ao clero, na sua forma de uma taxa sobre o pecado que lhes permitiam manter suas amantes em troca de um valor anual.
A Igreja Católica fez de tudo para apagar esse tipo de coisa. Papas virtuosos, no momento de sua eleição, adotaram o mesmo nome e número de papas anteriores, para causar confusão. Protestantes radicais dos séculos XVI e XVII dedicaram-se com afinco a retirar esqueletos dos armários. Um panfletário da época fez alegremente a lista dos papas envenenadores, assassinos, fornicadores, libertinos, bêbados, devassos, jogadores, necromantes, adoradores do diabo e ateus – e incluindo uma seção especial para aqueles que haviam cometido incesto.
Muitos papas foram acusados de simonia – a venda lucrativa de cargos na Igreja. Até o século XV, a Igreja esteve temporariamente dividida, tendo mais de um papa ao mesmo tempo. Papas rivais excomungavam, aprisionavam e mesmo assassinavam-se uns aos outros. O perdedor no jogo – aquele que não se mantinha na linha direta de sucessão de São Pedro até o nosso papa atual – era chamado de antipapa. Aos olhos dos historiadores da Igreja, antipapas podiam permitir-se uma certa ousadia. Os verdadeiros papas – segundo as fontes oficiais – não cometiam erros, é claro, mesmo não se desconhecendo o fato de que alguns haviam envenenado seus predecessores para ascender ao trono.
Com riqueza, o poder e a posição que o papado trazia, não é de surpreender que alguns deles encontrassem alívio, regularmente, nos braços de suas amantes. Poucos ousariam criticar. Desde cedo, na história da Igreja, estabeleceu-se que o papa só era responsável diante de Deus e este, supunha-se, se faria de cego.
Hoje, tendemos a pensar em todos os papas como velhos. Após anos servindo a Igreja, podia-se esperar que houvessem deixado para trás o fogo da juventude. Mas, com maquinações de poderosas famílias, alguns foram coroados papas ainda na adolescência. Usufruindo tão cedo de riqueza e poder ilimitados e sem ninguém que ousasse lhes dizer que era moralmente condenável, o potencial para libertinagem tornou-se igualmente ilimitado.
Apesar de algumas alegações serem exageradas, muitas outras têm base sólida. O celibato não foi exigido dos padres até 1139 – e, mesmo depois, os clérigos continuaram a ter concubinas. A Igreja Católica era a mais rica instituição na face da Terra. A religião oferecia uma carreira lucrativa e homens ricos necessitam desfrutar seus prazeres. Além disso, os excessos papais eram fáceis de se esconder. Desde 1557, as publicações descrevendo os delitos dos papas podiam ser escondidas dos fiéis colocando-as no Index dos livros proibidos (O Index Librorum Prohibitorum). As histórias oficiais santificam os papas. Todos os trinta primeiros, com uma única exceção, foram apresentados como mártires, mas não há evidência de que tenham morrido por Cristo.
Desde os primórdios da humanidade, sexo e religião estiveram próximos um do outro. Muitos cultos pagãos incluem, entre seus rituais, atos sexuais explícitos. Mesmo depois de o Cristianismo ter ficado firmemente estabelecido, confrontou-se com uma religião muito mais sensual – o Islã. Isto é o que os muçulmanos esperam do paraíso:
“Setenta e duas huris, ou jovens de olhos escuros e resplandecente beleza, viçosa juventude, pureza virginal e requintada sensibilidade, serão criadas para usufruto do mais humilde crente; um momento de prazer será prolongado por milhares de anos e suas faculdades aumentarão centenas de vezes para torná-lo digno da felicidade.”
Comparem isso com a idéia cristã de paraíso – os salmos cantados, os sermões, o sol brilhando, uma arquitetura celestial.
A história da Igreja cristã, entretanto, não é tão sóbria como faz parecer. Os papas, particularmente, foram corrompidos. Portanto, não se surpreenda se uma manhã, ao acordar, vir nas manchetes dos diários Sun ou The New York Post: “O papa está apaixonado!”
Infelizmente a Igreja traz em sua face às rugas de nossos pecados, mas será sempre sustentada pelo poder de Deus, pois Jesus Cristo, que a fez, disse a seus Apóstolos: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28,20b).
E nós seres humanos, homens e mulheres, somos essencialmente seres de protest-ação, de ação e protesto. Protestamos continuamente. Recusamo-nos a aceitar a realidade na qual estamos mergulhados porque somos mais, e nos sentimos maiores do que tudo o que nos cerca.
Desdobramos todos os esquemas, nada nos encaixa. Não há sistema mais duro, não há nazismo mais feroz, não há repressão mais eclesiástica mais dogmática que possa enquadrar o ser humano. Sempre sobra algo nele. E não há sistema social, por mais fechado que seja, que não tenha brechas por onde o ser humano possa entrar, fazendo explodir essa realidade.
Ao falar de transcendência como dimensão intrínseca do ser humano, temos de submeter a rigorosa crítica que as religiões nos legaram. Elas afirmam que o Céu fica lá em cima, onde está Deus, os santos e aquele mundo que chamam de transcendente. Aqui embaixo fica a imanência, onde está a criação sobre a qual reinamos. Os dois mundos de justapõem e até se contrapõem. Através de toda mecânica da oração e da meditação buscamos criar pontes para chegar ao Céu, a transcendência e a Deus.
Caso não consigamos por nós mesmos chegar a Deus, as religiões se propõem como mediadoras. Os filósofos, no entanto, nos dizem: “Tudo isso é metafísica.” O que significa: tudo isso é uma representação e uma projeção nossa, não é a realidade originária. É invenção nossa. Talvez a primeira metafísica, a primeira representação do mundo forjada pelos seres humanos, já nos ancestrais — quem sabe quando surgiu a primeira luz de inteligência, há quase dez milhões de anos —, tenham sido as religiões. Porque elas são metafísicas, são representações de mundo: céu/inferno, lá/aqui, Deus/mundo, corpo/alma, imanência/transcedência.
Uma reflexão mais profunda, entretanto, aquela que busca o pensamento originário, aquele grau zero da existência, se dá conta de que se trata de invenção e projeção humana. Quando afirmamos isso, irritamos todos os crentes. Aqueles que defendem os catecismo se sentem dernorteados. Mas nós temos de pensar na realidade, não nos catecismos. Eles são interpretações religiosas da realidade e como tais não perdem seu valor. São, porém, interpretações de algo anterior a eles, algo que queremos decifrar.
O cristianismo, a tradição judeu-cristã, lê num código religioso, fala de pecado original, tudo aquilo que já sabemos. Mas a leitura antropológica e filosófica descobre aí o ato supremo do ser humano: “Você não pode comer da fruta proibida; se comer, você morre.” E o ser humano tem o prazer de violar o interdito, de fazer a coisa proibida. Não existe tentação maior. E ele viola, descobre a sua realidade de transcendência, se transforma em humano.
O Deus ex maquina pregado por religiões ou anunciados por dogmas não preenche, necessariamente a busca humana, porque vem de fora para dentro e de cima para baixo. Mas há uma outra experiência de Deus, a que nasce dessa ansiedade do ser humano. Ao dizer “Deus” (palavra de reverência que, por respeito, sequer balbuciamos) apontamos para a direção de onde nos poderá vir uma resposta. Então esse nome de Deus está no lugar do mistério, de inominável, de indecifrável, de fonte originária de todo ser. Neste Deus o ser humano pode descansar, pois se sente conatural com Ele.
Ao entardecer de nossas vidas, não seremos julgados porque tivemos transcendência e comungamos muitas vezes, não porque obedecemos a todos os dogmas e nos filiamos às igrejas, ou porque fomos bons dizimistas ou cidadãos honrados. Não seremos julgados por nada disso. Seremos julgados por aquele mínimo de amor que tivemos pelo sedento, pelo nu, pelo faminto. Quem assumiu essa transcendência escuta as palavras benditas: “Vinde. Herdai o reino.” Por isso, para o cristianismo, o importante não é a transcendência nem a imanência. É a transparência, que é a presença da transcendência dentro da imanência. Não é a epifania, o Deus que vem e se anuncia. É a diafania, o Deus que, de dentro emerge para fora, de dentro da realidade, do universo, do outro e do empobrecido.
Portanto, a singularidade do cristianismo está na transparência desse homem concreto, Jesus de Nazaré, homem como nós, que morreu não num acidente de estrada na Palestina, mas morreu na cruz, num processo de insurgência, porque tomou partido dos pobres, dos humildes, transparência que permite captar a transcendência divina. Ele internalizou a experiência ao dizer: “Você é filho, você é filha de Deus. Em você se encontra o absoluto. E por isso, ao amar o outro, você ama a Deus, e o amor a Deus e ao próximo são um amor só, são um movimento só.”
Nada mais grandioso que tal estado de consciência. A transparência é poder ver no outro Deus nascendo da profundidade do seu coração. Essa é a singularidade do cristianismo, não raro obnubilado pelo excesso de doutrinas e de dogmas que se agregam a essa experiência originária.
Fonte: Centro de Estudos em Filosofia Americana Humanas em Prol da Humanidade