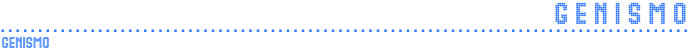
A CRISE (II)
Diversos Autores (2008)
Folha de São Paulo, domingo, 28 de setembro de 2008
A superideologia
Dinheiro queimado
--------------------------------------------------------------------------------
Colapso aponta para o fim dos EUA como potência mundial e o enfraquecimento do dólar como moeda de troca - e isso pode ser ruim
--------------------------------------------------------------------------------
ROBERT KURZ
ESPECIAL PARA A FOLHACrise -qual crise? Eis o que tonitruavam até pouco tempo atrás ideólogos liberais, de direita e também de esquerda, que acreditam na vida eterna do capitalismo. Saiu cada vez mais do foco da atenção o fato de essa espécie de sociedade não apenas ter uma história, mas ser mesmo a história de uma dinâmica cega.
Justamente nas duas últimas décadas, as pessoas queriam perceber apenas os "eventos" transitórios nas formas sociais a-históricas de uma ontologia capitalista. Isso vale para indivíduos comuns e para os pobres, assim como para as elites.
À semelhança do personagem Dorian Gray no romance homônimo do irlandês Oscar Wilde, parecia que no lugar do capitalismo só envelhecia a imagem do mundo social por ele criado, assumindo os traços da miséria, enquanto a lógica do dinheiro brilhava em falso frescor juvenil.
Agora, a "Segunda-Feira Negra" da maior quebra financeira da história [a do Lehman Brothers, 15/9] desvela num único golpe o verdadeiro rosto do Dorian Gray capitalista.
Ocorre que ninguém quer reconhecer essa natureza do novo surto de crise. A confiança atávica no capitalismo conduz apenas à busca de culpados.
"Práticas nada sérias" de especuladores e uma "política econômica anglo-saxã" são responsabilizadas pelo desastre. Tal explicação míope com ecos anti-semitas já foi mobilizada recorrentemente no passado.
Há mais de 20 anos uma onda de crises financeiras acompanha a globalização. Todas as medidas aparentemente bem-sucedidas para evitar uma "fusão nuclear" do sistema financeiro internacional só lograram reformular o problema, em vez de solucioná-lo.
Humanos obsoletos
Sua evolução atual implode todas as concepções até agora propostas. Não afetou apenas o setor dos créditos hipotecários nos EUA, mas provocou também uma reação em cadeia, cujo fim ainda é distante.
É impossível que as causas sejam a falha individual e as deficiências morais dos atores. Elas só podem residir no núcleo do sistema, referido à economia real.
O capitalismo é apenas a acumulação autotélica de dinheiro, cuja "substância" consiste no uso crescentemente ampliado da mão-de-obra humana. Ao mesmo tempo, porém, a concorrência conduz a um aumento da produtividade, que torna a mão-de-obra obsoleta, em escala também crescente.
Apesar de todas as crises, tal autocontradição parecia dissolver-se sempre em uma regeneração da absorção maciça da mão-de-obra por novas indústrias. O "milagre econômico" depois de 1945 transformou em credo essa capacidade do capitalismo, mas, desde os anos 1980, a "Terceira Revolução Industrial", microeletrônica, ensejou uma nova qualidade da racionalização, que desvaloriza a mão-de-obra humana em medida antes desconhecida.
Sem o surgimento de novas indústrias dotadas da potência de crescimento auto-sustentado, a "substância" real da valorização do capital se derrete.
O neoliberalismo foi tão-somente a tentativa de gerir com meios repressivos a crise social daí decorrente, por um lado, e de produzir um crescimento "sem substância" do "capital fictício" mediante o inchaço irrefreado do crédito, do endividamento e das bolhas financeiras nos mercados de ações e de imóveis, por outro lado.
Mas essa abertura mundial das comportas monetárias e, sobretudo, a avalanche de dólares produzida pelo Banco Central dos EUA já foram o pecado original do assim chamado monetarismo, que postulara como cerne da doutrina neoliberal a redução forçada da quantidade de dinheiro.
Na verdade, o jorro de dinheiro, criado pelo Estado a partir do nada, subsidiou uma inflação de ativos patrimoniais fictícios. O paradoxal "socialismo do dinheiro sem substância" experimenta agora seu "Waterloo", como antes já ocorreu com o capitalismo de Estado do Leste Europeu e a versão keynesiana do crescimento fomentado pelo Estado no Ocidente.
A estatização de fato do sistema bancário dos EUA e o plano do secretário do Tesouro dos EUA para conter a crise com recursos estatais só podem ser avaliados como atos de desespero. Da noite para o dia revelou-se o caráter de capitalismo estatal da suposta liberdade dos mercados.
Estágio final
Comentaristas irônicos já falam em "República Popular de Wall Street". Mas isso não resolve nada.
De certa forma, estamos diante do último estágio do capitalismo de Estado, que na melhor das hipóteses pode postergar o colapso dos balanços com mais emissões inflacionárias de moeda.
À diferença de épocas anteriores, inexiste espaço para novos programas conjunturais, que precisariam alimentar-se na mesma fonte.
Com isso também chegou o fim dos EUA enquanto potência mundial. Não é mais possível financiar guerras intervencionistas com recursos próprios. O dólar se torna obsoleto enquanto moeda mundial.
Ocorre que não podemos vislumbrar no horizonte nenhum substituto para os papéis da última potência mundial e do dólar. O ressentimento contra a "dominação anglo-saxã" não é uma crítica do capitalismo e não tem credibilidade, pois os fluxos unilaterais de exportações aos EUA sustentaram a conjuntura do déficit global.
Na Ásia, na Europa e alhures, as capacidades industriais não viveram de ganhos e salários reais, mas, direta ou indiretamente, do endividamento externo dos EUA.
Déficit global
No fundo, a economia neoliberal das bolhas financeiras foi uma espécie de "keynesianismo mundial", que agora se extingue como a anterior variante nacional do keynesianismo.
Todas as "novas potências" supostamente emergentes estão inseridas de modo economicamente dependente na circulação global do déficit.
Sua dinâmica muito admirada foi uma mera aparência, sem desenvolvimento interno próprio. Por isso não haverá em nenhum lugar o retorno a um capitalismo "sério" com empregos "reais".
Em vez disso, devemos esperar o efeito dominó de uma repercussão da crise financeira na conjuntura mundial, ao qual nenhuma região poderá subtrair-se.
O capitalismo de Estado e o capitalismo concorrencial "livre" evidenciam ser dois lados da mesma moeda. Abala-se não um "modelo" passível de ser substituído por outro, mas o modo vigente da produção e da vida enquanto fundamento comum do mercado mundial.
--------------------------------------------------------------------------------
ROBERT KURZ é sociólogo alemão, autor de "O Colapso da Modernização" (Paz e Terra). Tradução de Peter Naumann.****************************
E agora, liberais?MARCOS NOBRE
A MAIOR OPERAÇÃO ideológica desde a queda do Muro de Berlim foi por água abaixo. Fizeram do secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, um super-herói que iria salvar o planeta de um gigantesco acidente natural chamado crise financeira.
Colocaram no roteiro verdadeiras crises de consciência: o herói faria o salvamento ao preço de enorme sacrifício pessoal, imolando suas mais caras convicções liberais no altar da estatização.
Na seqüência, fizeram com que o já entronado grão-vizir das finanças públicas negociasse com os legítimos representantes do povo. Os superpoderes se tornariam então poderes supervisionados e delegados pela vontade da maioria.
O acordo entre Hollywood e o Capitólio foi selado no domingo e derrubado no dia seguinte. Para o Congresso dos EUA não foi suficiente dizer "desculpe, foi engano" depois de décadas de exaltação às maravilhas da desregulação econômica.
A situação é inédita. Pela primeira vez o capitalismo enfrenta uma crise global sem ter adversário. Não há movimento social e político de importância a confrontar o capital e a sua forma de distribuir a riqueza. E, nesse momento, a premissa de toda a encenação desmorona: não há harmonia preestabelecida entre capitalismo e democracia.
Resta saber que figurino vai usar agora quem toca o bumbo do liberalismo econômico no Brasil. A primeira tentativa foi vender o resgate como salvação universal e defesa do bem comum em uma situação de emergência. Não colou. Nos últimos tempos, resolveram dar de analistas imparciais, que não têm nada a ver com isso.
Nos casos mais patológicos, mantiveram a beligerância de sempre, só que disfarçada. Em vez de falar da crise do mercado, disseram que a regulação estatal também produz crises. Recorreram a uma suposta experiência histórica para dizer que políticas adotadas para conter crises só fazem piorar as crises. Para completar, espreguiçaram na cadeira de balanço e pontificaram que a crise é uma oportunidade, uma pausa para a reflexão e para a reforma interior da pessoa humana.
Não é só cinismo. É arrogância própria de quem serve ao poder do capital da maneira que for necessária. Poder que detém um quase monopólio da tradução da crise para a sociedade na esfera pública.
Foi essa arrogância que produziu tantas trocas levianas de figurino ideológico em tão pouco tempo. A dança descompromissada do liberalismo confiou em que um Congresso não desafiaria um plano que se apresentou desde o início como inevitável, sem alternativa. Vão ter de fazer muito melhor agora.
nobre.a2@uol.com.br
****************************
A superideologia
Mercado livre
--------------------------------------------------------------------------------
Pacote de US$ 700 bilhões de ajuda ao mercado financeiro dos EUA é álibi para cidadãos reivindicarem mais direitos sociais, mas neoliberalismo deve sair fortalecido
--------------------------------------------------------------------------------
NAOMI KLEIN
Seja qual for o significado dos acontecimentos das últimas semanas, ninguém deve acreditar nas declarações exageradas de que a crise do mercado assinala a morte da ideologia do "livre mercado".
A ideologia do livre mercado sempre esteve a serviço dos interesses do capital, e sua presença avança e recua, dependendo da utilidade que tem para esses interesses.
Em épocas de crescimento, pregar o "laissez-faire" é rentável, porque um governo ausente permite o crescimento de bolhas especulativas. Quando essas bolhas estouram, a ideologia se torna um empecilho e entra em estado dormente, enquanto o grande governo parte em missão de salvamento.
Mas podemos ter a certeza de que a ideologia retornará com força total assim que os pacotes de socorro tiverem sido entregues.
As dívidas maciças que o público está acumulando para socorrer os especuladores irão, então, tornar-se parte de uma crise orçamentária global que será usada para justificar cortes profundos nos programas sociais, além de uma investida renovada para privatizar o que restou do setor público.
Também nos dirão que, infelizmente, nossas esperanças de um futuro verde são demasiado onerosas.
Reação imprevisível
O que não sabemos é como o público vai reagir. Vale lembrar que todos os que têm menos de 40 anos nos EUA cresceram ouvindo que o governo não pode intervir para melhorar nossas vidas, que o governo é o problema, não a solução, que o "laissez-faire" é a única opção.
Agora, repentinamente, nos vemos diante de um governo extremamente ativista, intensamente intervencionista, aparentemente disposto a fazer o que for preciso para salvar os investidores deles mesmos.
Esse espetáculo necessariamente levanta uma pergunta: se o Estado pode intervir para salvar grandes corporações que assumiram riscos insensatos nos mercados imobiliários habitacionais, por que não pode intervir para salvar milhões de americanos do risco iminente de perderem suas casas devido à execução de suas hipotecas?
Se US$ 85 bilhões podem ser disponibilizados instantaneamente para comprar a seguradora gigante AIG, por que um sistema de saúde pago por um fundo único -que protegeria os americanos das práticas predatórias das empresas de seguro-saúde- parece ser um sonho tão inalcançável?
E, se cada vez mais corporações precisam do dinheiro dos contribuintes para se manterem em pé, por que os contribuintes não podem fazer exigências em troca -por exemplo, a imposição de tetos aos salários dos executivos ou a adoção de garantias contra mais perdas de empregos? Agora que está claro que os governos podem, sim, intervir em tempos de crise, ficará muito mais difícil para eles alegar impossibilidade de agir no futuro.
Outra mudança potencial tem a ver com as esperanças do mercado quanto a privatizações futuras. Os bancos globais de investimentos vêm fazendo lobby com políticos há anos em favor de dois mercados novos: um que viria da privatização das pensões públicas e outro que viria de uma nova onda de privatizações totais ou parciais de rodovias, pontes e sistemas de água.
Desconfiança
Ficar mais difícil argumentar em favor desses dois sonhos: os americanos não estão com vontade de confiar uma parte maior de seus ativos individuais e coletivos aos apostadores insensatos de Wall Street, especialmente porque parece mais que provável que os contribuintes terão que recomprar seus próprios ativos quando a próxima bolha estourar.
Com o descarrilamento das conversações na Organização Mundial do Comércio, a crise atual pode também catalisar uma abordagem radicalmente alternativa à regulamentação dos mercados e sistemas financeiros mundiais.
Já está ocorrendo no mundo em desenvolvimento um movimento em favor da chamada "soberania alimentar", como alternativa a deixar que caprichos dos negociantes de commodities ditem o acesso aos alimentos em todo o mundo. É possível que tenha chegado a hora, finalmente, de idéias como a taxação das transações financeiras, que desaceleraria o investimento especulativo, além de outros controles dos capitais globais.
E, agora que "nacionalização" deixou de ser palavrão, as empresas de petróleo e gás farão bem em se precaver: alguém precisa pagar pela mudança para um futuro mais verde, e faz muito sentido que a parte maior dos recursos venha do setor altamente rentável que é o maior responsável por nossa crise climática.
Isso com certeza faz mais sentido do que criar outra bolha perigosa no comércio de carbono.
Mas a crise à qual estamos assistindo pede mudanças ainda mais profundas. A razão pela qual se permitiu que proliferasse o crédito de risco não foi apenas que os reguladores não compreenderam o risco. É porque temos um sistema econômico que mede nossa saúde coletiva exclusivamente com base no crescimento do PIB.
Enquanto os créditos de risco estavam alimentando o crescimento econômico, nossos governos os apoiaram ativamente. Assim, o que está realmente sendo posto em xeque pela crise é o compromisso sem questionamentos com o crescimento a qualquer custo.
Pressões públicas
Esta crise deve nos conduzir a uma maneira radicalmente diferente de nossas sociedades medirem a saúde e o progresso.
Mas nada disso vai acontecer sem a imposição de pressões públicas muito fortes sobre os políticos neste período-chave.
Não estamos falando em fazer lobby de modo educado, mas na volta das pessoas às ruas e ao tipo de ação direta que trouxe o New Deal nos anos 1930.
Sem isso, haverá mudanças superficiais e o retorno ao "business as usual" o mais rapidamente possível.
--------------------------------------------------------------------------------
NAOMI KLEIN é colunista da "The Nation" e autora de "A Doutrina do Choque - A Ascensão do Capitalismo de Desastre" (ed. Nova Fronteira). Tradução de Clara Allain.****************************************
A superideologia
Crise: modos de usar
--------------------------------------------------------------------------------
A partir de agora, a aposta é saber qual discurso ganhará a disputa para explicar o que levou os EUA à beira do colapsoTerá a crise financeira sido um momento que realmente provocou reflexão sóbria, o despertar de um sonho?
--------------------------------------------------------------------------------
SLAVOJ ZIZEK
COLUNISTA DA FOLHAQuando o herói de "Eles Vivem", de John Carpenter, uma das obras-primas esquecidas da esquerda de Hollywood, colocou um par de óculos de sol estranho que encontrou numa igreja abandonada, descobriu que um outdoor colorido que convidava as pessoas a passar férias numa praia do Havaí passava a ostentar apenas palavras cinzentas sobre um pano de fundo branco -"casem e se reproduzam"-, enquanto um anúncio de uma nova TV em cores passava a dizer simplesmente "não pense, consuma!".
Em outras palavras, os óculos funcionavam como aparelho de crítica da ideologia, possibilitando ao protagonista enxergar a mensagem real oculta sob a superfície colorida. O que veríamos, então, se observássemos a campanha presidencial republicana com a ajuda de óculos como esses?
A primeira coisa que chamaria nossa atenção seria uma longa série de contradições e incoerências já observadas por muitos comentaristas.
O chamado para passar por cima das divisões partidárias -acompanhado pela brutal guerra cultural de "nós" contra "eles". O aviso de que a imprensa deveria se abster de comentar a vida familiar dos candidatos -enquanto a família é exibida sobre o palco.
A promessa de mudanças, acompanhada pelo mesmo velho programa de sempre (isto é, menos impostos e menos Estado, reforço das Forças Armadas, política externa mais intransigente).
A promessa de reduzir os gastos do Estado, acompanhada de elogios ao governo Reagan. Acusar o partido adversário de privilegiar o estilo em detrimento da substância -em eventos de mídia perfeitamente encenados.
O próximo passo é perceber que essas e outras incoerências não são um ponto fraco, mas uma arma-chave da força da mensagem republicana.
A estratégia republicana explora com maestria as falhas da política liberal-democrata: sua preocupação paternalista com os pobres, associada a uma indiferença mal disfarçada pelos trabalhadores de colarinho azul; seu feminismo politicamente correto, que anda de mãos dadas com uma mal disfarçada desconfiança das mulheres no poder.
Sarah Palin [candidata à Vice-Presidência na chapa republicana de John McCain] foi um sucesso nesses dois quesitos, desfilando sua feminilidade com seu marido de classe trabalhadora.
As gerações anteriores de políticas (Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher -mesmo Hillary Clinton, até certo ponto) eram mulheres do tipo mais comumente descrito como "fálicas": elas agiam como "damas de ferro" que imitavam a autoridade masculina ou a exageravam, procurando ser "mais homens que os homens".
Ao contrário, exibe sua condição feminina e materna com orgulho. Exerce um efeito "castrador" sobre seus adversários homens, não por ser mais viril que eles, mas por empregar a arma feminina máxima, ironizando sarcasticamente a autoridade masculina empolada.
Ela sabe que a autoridade masculina "fálica" é uma pose, uma ilusão a ser explorada e ironizada.
Vale recordar como ela zombou de Obama como "organizador comunitário", explorando o fato de que existe algo de estéril em sua aparência física, com sua pele negra diluída, seus traços magros e orelhas grandes...
Bênção eleitoral
Com Palin, vimos uma feminilidade "pós-feminista", sem complexos, unindo as características de mãe, professora correta e pudica (óculos, coque), pessoa pública e, implicitamente, objeto sexual.
A mensagem é que não falta nada a Palin -e, para torná-la ainda mais irritante, foi uma mulher republicana quem realizou esse sonho da esquerda liberal. É como se Sarah Palin simplesmente fosse aquilo que as feministas liberais de esquerda querem ser.
Não surpreende que o efeito Palin seja um efeito de falsa libertação: "Drill, baby, drill!" ("perfurar, baby, perfurar!" -alusão à perfuração de poços petrolíferos). Podemos reunir o impossível, feminismo e valores familiares, grandes empresas e trabalhadores braçais!
Assim, retornando a "Eles Vivem", para captar a mensagem republicana verdadeira é preciso levar em conta aquilo que é dito e o que não é dito, mas que fica implícito.
Onde a mensagem que vemos é a promessa de mudanças, os óculos revelariam algo como "não se preocupem, não haverá mudanças reais. Só queremos mudar algumas coisinhas para ter a certeza de que nada vai mudar de fato."
O discurso da mudança, de mexer nas águas paradas de Washington, é uma constante republicana.
Assim, aqui não há lugar para ingenuidade: os eleitores republicanos sabem muito bem que não haverá mudanças reais. Sabem que a substância será a mesma, com apenas algumas mudanças de estilo. Isso faz parte do acordo.
Mas e se a mensagem republicana das entrelinhas ("não tenham medo, não haverá mudanças reais...") for a verdadeira ilusão, e não a verdade secreta? E se realmente houver uma mudança?
Felizmente, aconteceu o fato necessário -uma verdadeira bênção eleitoral disfarçada- para nos fazer lembrar do mundo em que vivemos: a realidade do capitalismo global.
O Estado adotou medidas emergenciais e prevê gastar US$ 700 bilhões com um plano de resgate financeiro, de modo a consertar as conseqüências da crise provocada pelas especulações do livre mercado. A mensagem é inequívoca: mercado e Estado não se opõem; intervenções fortes do Estado são necessárias para manter a viabilidade do mercado.
Diante da avassaladora crise financeira, a reação republicana predominante foi a de desesperadamente tentar reduzir a crise a um infortúnio de gravidade restrita, que poderia facilmente ser sanado com uma dose correta do velho remédio republicano (respeito aos mecanismos de mercado etc.).
Mas toda a encenação política de gastos menores do Estado se tornou irrelevante após essa injeção de realidade repentina: mesmo os partidários mais ferrenhos da redução do papel excessivo de Washington agora reconhecem a necessidade de uma intervenção do Estado que, em seu valor quase inimaginável, chega a ser sublime.
Diante dessa grandeza sublime, todas as bravatas foram reduzidas a um resmungar confuso. Onde foram parar a determinação de McCain e o sarcasmo de Palin?
Competição ideológica
Mas terá a crise financeira total sido um momento que realmente provocou reflexão sóbria, o despertar de um sonho? Tudo depende de como ela será simbolizada, de qual interpretação ideológica ou de qual versão irá se impor e ditar a percepção geral da crise.
Quando o curso normal dos fatos é interrompido de maneira traumática, o campo fica aberto à competição ideológica "discursiva".
Por exemplo, na Alemanha, no final dos anos 1920, Hitler ganhou a competição pelo discurso que iria explicar aos alemães as razões da crise da República de Weimar e a saída proposta para ela (a conspiração, para ele, era a conspiração judaica); na França, em 1940, foi a narrativa do marechal Pétain que venceu a disputa por explicar as razões da derrota francesa.
Conseqüentemente, para formular a coisa em termos marxistas antiquados, a tarefa principal da ideologia dominante na crise atual é impor uma narrativa que não atribua a culpa pela crise atual ao sistema capitalista em si, mas a seus desvios secundários acidentais (regulamentação fiscal demasiado leniente, a corrupção de grandes instituições financeiras etc.).
Contra essa tendência, devemos insistir na pergunta chave: qual "falha" do sistema enquanto tal abriu a possibilidade de tais crises e colapsos?
A primeira coisa a ter em mente aqui é que a origem da crise é "benévola": depois da explosão da bolha digital, nos primeiros anos do novo milênio, a decisão feita por ambos os partidos foi facilitar os investimentos imobiliários, para manter a economia andando e impedir a repressão.
Logo, a crise atual é o preço que está sendo pago pelo fato de os EUA terem evitado uma recessão cinco anos atrás.
Assim, o perigo é que a narrativa predominante da atual crise seja aquela que, em lugar de nos fazer despertar de um sonho, nos possibilitará continuar a sonhar.
É nesse ponto que devemos começar a nos preocupar: não apenas com as conseqüências econômicas da crise, mas com a tentação evidente de injetar ânimo novo na "guerra ao terror" e no intervencionismo dos EUA, para manter a economia funcionando a contento.
--------------------------------------------------------------------------------
SLAVOJ ZIZEK é filósofo esloveno e autor de "Um Mapa da Ideologia" (ed. Contraponto). Ele escreve na seção "Autores", do Mais!. Tradução de Clara Allain.
*********
Continua em A Crise (II-Continuação)